
Fonte: Revista de História da Biblioteca Nacional
Embalados pelo sucesso da Revolução Russa, anarquistas tramaram uma insurreição fracassada no Rio de Janeiro, em 1918, mas com efeitos positivos para a classe operária
Por Carlos Augusto Addor
Rio de Janeiro, 12 de novembro de 1918. No centro da cidade − profundamente modificada na década anterior pela Reforma Pereira Passos −, a população carioca improvisa uma festa na moderna e imponente Avenida Rio Branco. Comemora-se o armistício assinado na véspera em Rothonde, na França, dando fim à Primeira Guerra Mundial, que desde 1914 vitimara milhões de pessoas, inclusive brasileiros. Um outro forte motivo, mais próximo do cotidiano da população do Rio de Janeiro, também contribui para a formação desse clima festivo ou, pelo menos, para um clima de alívio e esperança por dias melhores: o constante declínio das ocorrências da gripe espanhola, terrível epidemia que nos últimos meses, sobretudo no anterior, ceifara milhares de vidas no Brasil e, principalmente, na sua capital federal. Fim da guerra, fim da peste… Novos tempos pareciam se anunciar.
O Brasil de então era ainda um país essencialmente agrário, um imenso “oceano rural” com algumas “ilhas urbanas” − Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife −, com a grande maioria da população vivendo no campo. Em algumas delas, ia se formando aos poucos um proletariado urbano, uma nova classe no cenário histórico brasileiro. Nas fábricas de tecidos, calçados, chapéus, cervejas, e também em outras atividades urbanas – no porto, nos bondes, em bares, hotéis e restaurantes, no comércio – trabalhavam, ombro a ombro, homens, mulheres e crianças, brancos, negros e mulatos, brasileiros e estrangeiros, entre estes, basicamente portugueses, italianos e espanhóis. Enfrentavam duras e extensas jornadas de trabalho (em média 12, no limite 16 horas por dia, seis dias por semana), muitas vezes em locais insalubres, recebendo salários ínfimos – mulheres e crianças com salários ainda menores que os dos homens adultos, agravando o quadro de superexploração.
Notícias sobre a Revolução Russa de outubro de 1917 − a primeira revolução socialista vitoriosa da história da humanidade − correm o mundo com a rapidez permitida pelos meios de comunicação e transporte da época. Os sistemas de radiodifusão e aviação ainda são precários, mas telégrafos, navios e trens já bastante eficientes transmitem as novidades, que são reproduzidas por uma imprensa vigorosa e diversificada. As notícias circulam pelo planeta, atravessam mares e continentes, e as esperanças crescem. Vai se criando um clima de euforia revolucionária. O capitalismo estaria com os dias contados, a humanidade caminhava rumo ao socialismo, o mundo seria livre e justo, as riquezas, abundantes, as pessoas, felizes e plenas.
As notícias sobre os bolcheviques − e, supunha-se, do proletariado − no poder logo chegam ao Brasil e começam a incendiar a imaginação dos militantes anarquistas e socialistas no ainda incipiente, mas combativo, movimento operário e sindical. No Rio de Janeiro, em São Paulo e em Santos, o “porto vermelho”, as folhas operárias, principalmente aquelas ligadas aos anarquistas, publicavam notícias, artigos e editoriais sobre a revolução russa. Exaltavam seu caráter supostamente libertário, que estaria relacionado ao projeto de se construir o socialismo sem abrir mão do valor fundamental da liberdade, inclusive da autonomia individual. Além disso, o ineditismo da Revolução Russa criou enormes expectativas em torno de sua internacionalização, cada vez mais vista como uma necessidade. Nesse primeiro momento – e até o início dos anos 1920 – a Revolução Russa agradava a “gregos e troianos” e contava com o apoio entusiasmado de diferentes correntes ideológicas. A chama revolucionária começava a se alastrar pelo hemisfério sul…
O Estado brasileiro na Primeira República – oligárquico, excludente, manipulando sistematicamente o processo eleitoral em todas as suas etapas, do coronelismo local ao arranjo de poderes no plano federal –, não abria espaço para o êxito da estratégia gradualista dos socialistas, que privilegiava o voto, os partidos, a participação no processo eleitoral e a obtenção de conquistas graduais. Assim, os vários partidos socialistas então fundados têm vida breve, e o socialismo reformista não chega a se constituir numa alternativa política que conquiste apoio significativo dos trabalhadores urbanos.
Ao contrário dos socialistas reformistas, os anarquistas não pretendem delegar poderes nem transferir responsabilidades. A militância é decorrente de uma opção de soberania individual, a luta operária transcende as fronteiras nacionais e “a emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores”. Situam a luta exclusivamente nos campos econômico e cultural-ideológico − daí a ênfase na criação de escolas e grupos de teatro, na tentativa de construir uma cultura alternativa à cultura burguesa dominante. E sua proposta é a “ação direta”: greves, comícios, manifestações públicas, boicotes, atos de sabotagem. Acreditam, não sem certa dose de ingenuidade, que uma greve geral revolucionária terá força suficiente para derrubar o capitalismo e que a Revolução Libertária abrirá então caminho – sem ditaduras proletárias transitórias – para a construção da sociedade sem classes e sem Estado. Defendem, numa palavra, a Anarquia, no sentido de “ausência de governo” e não no sentido de “caos e desordem” que a palavra ganharia mais tarde.
Mas o Estado brasileiro, além de excludente e manipulador, possuía duas outras características. Em relação à chamada “questão social”, sua postura era marcada pela não- intervenção sistemática no mercado de trabalho, regulamentando as relações entre capital e trabalho por meio de uma legislação trabalhista – patrões e operários que se entendessem no “livre mercado” para estabelecer as condições de trabalho, salários, jornadas etc. Ótimo para os empresários e péssimo para os trabalhadores. Por outro lado, nos momentos de conflito aberto – principalmente durante as greves –, o Estado não hesitava em usar seu braço policial para reprimir duramente os trabalhadores com cargas de cavalaria, prisões, espancamentos, deportações arbitrárias. Aos olhos dos anarquistas, o Estado brasileiro encarnava com perfeição sua visão teórica do Estado: necessariamente “corrupto e corruptor”. É a partir destas condições que a pregação anarquista pela greve geral e pelo caráter internacionalista da luta por eles proposta acaba se tornando muito mais sedutora e encontrando maior apoio entre os trabalhadores urbanos, parte de uma classe operária também internacional.
É nesse cenário que os trabalhadores urbanos começam a se organizar para lutar coletivamente por melhores condições de vida. Fundam não apenas associações profissionais, sindicatos e jornais operários, mas também − principalmente os anarquistas − grupos de teatro social, escolas “livres, modernas e racionais” e até mesmo uma efêmera Universidade Popular de Ensino Livre no Rio de Janeiro, em 1904. A flâmula de uma associação operária, com uma mão branca e outra negra entrelaçadas, simbolizava o ideal de coesão social, a formação de uma consciência de classe acima das origens e identidades nacionais, étnicas e culturais diversas. A classe operária começa a entrar em cena no Brasil.
Três correntes político-ideológicas procuram organizar os trabalhadores urbanos no Brasil entre 1890 e 1920. Os “amarelos” ou “trabalhistas” − principalmente no Rio de Janeiro, então Distrito Federal − não questionavam o capitalismo, lutando apenas por melhores condições de vida e trabalho para os operários. As duas outras correntes − socialistas reformistas (ou democráticos) e anarquistas (socialistas libertários) − procuram articular a luta imediata por melhores condições de vida a uma crítica filosófica e política ao capitalismo e à tentativa de construção de um projeto alternativo: o socialismo. Anarquistas e comunistas divergem em relação às estratégias de luta, em relação aos meios para chegar ao mesmo fim − construir sociedades sem classes, sem Estado, sem propriedade privada dos meios de produção (terras, máquinas, fábricas etc.), sem exploração ou dominação. Os meios para alcançar esse fim comum, isto é, as estratégias de transformação social, é que eram radicalmente diferentes. Mas em 1918 as divergências entre eles ainda não estavam na ordem do dia. Essa diferença se explicitaria, se aprofundaria e se agravaria a partir dos anos 1920, e ao longo das décadas seguintes, no mundo inteiro.
Desde 1914, a Primeira Guerra Mundial vinha prejudicando a economia brasileira, aumentando o desemprego, provocando recessão e carestia e agravando a penúria da classe operária. Em julho de 1917 (antes, portanto, da Revolução Russa) eclode em São Paulo aquela que seria a primeira greve geral parcialmente vitoriosa da história do Brasil. Esse movimento será fundamental para a auto-estima da classe operária, na luta pelo reconhecimento da legitimidade de seus sindicatos, ou seja, para sua formação como classe. No mesmo mês, ocorre no Rio de Janeiro uma greve generalizada, também envolvendo dezenas de milhares de trabalhadores. A greve carioca, também decorrente de questões ligadas à carestia, é ao mesmo tempo uma greve em solidariedade aos companheiros paulistas. Ela terá como principais conseqüências a formação de novos sindicatos e o aumento da representatividade dos já existentes. Em janeiro de 1918 é fundada a Aliança Anarquista do Rio de Janeiro e em março, a União Geral dos Trabalhadores (UGT) do Rio de Janeiro, sucessora da FORJ (Federação Operária do Rio de Janeiro), fechada pela polícia em agosto de 1917. Crescem a organização e a mobilização operárias. Em agosto de 1918, com as notícias da Rússia já correndo nos meios sindicais e políticos, eclode a greve dos trabalhadores da Cantareira, a empresa que operava as barcas de transporte de passageiros entre as cidades de Rio de Janeiro e Niterói. Durante a repressão policial, alguns soldados e cabos do Exército tomam o partido dos grevistas, sendo dois deles mortos por tiros da polícia. Este episódio alimenta, entre os anarquistas, expectativas ilusórias de uma aliança política entre conselhos de operários e de soldados, como na Rússia. Além dessas três greves, ao longo do ano inúmeros movimentos grevistas ocorrem na capital federal – greves de tecelões, de sapateiros, de leiteiros, de trapicheiros, de carvoeiros, de metalúrgicos, de trabalhadores da construção civil –, alguns parcialmente vitoriosos. Por vezes circulam boatos de que uma greve geral estaria sendo preparada.
É nesse ambiente que, no Rio de Janeiro, militantes anarquistas – entre eles José Oiticica, Astrojildo Pereira, Agripino Nazaré, Manuel Campos, Ricardo Perpétua, Carlos Dias, Álvaro Palmeira, José Elias da Silva, João da Costa Pimenta – começam a conspirar, reunindo-se geralmente no escritório de Oiticica, na Rua da Alfândega, visando reproduzir na capital federal da República brasileira a recente experiência russa: a Revolução Social pela via insurrecional. Se os bolcheviques tomaram o Palácio de Inverno, por que não poderiam os anarquistas tomar o Palácio do Catete? Num artigo publicado no jornal anarquista Crônica Subversiva em 29 de junho, criticando a Guerra Mundial, Astrojildo Pereira já propunha “subir as escadas do Catete e pegar pela gola o patife que lá estiver a presidir e arremessá-lo das janelas do segundo andar (…)”.
O plano era simples. A insurreição estaria articulada a uma greve operária, principalmente de trabalhadores têxteis e metalúrgicos. Nesse momento, a União dos Operários em Fábricas de Tecidos (UOFT), o sindicato têxtil, era dirigida por anarquistas, entre eles, Manuel Castro e Joaquim Moraes. Militantes conquistariam a adesão dos “irmãos de farda”, dos soldados do Exército. Anarquistas e operários grevistas armados, apoiados por militares, tomariam não só o Palácio do Catete, mas também uma delegacia de polícia (que chega a ser invadida) e a Intendência da Guerra (onde se apossariam dos armamentos), em São Cristóvão. A greve realmente foi deflagrada, envolvendo dezenas de milhares de trabalhadores, na maioria têxteis. Mas,… e a insurreição?
Mal preparado, o levante anarquista acabou por ser traído. O tenente do Exército Jorge Elias Ajus, vizinho do militante Ricardo Perpétua e que fora por este chamado a participar do movimento como encarregado do planejamento militar da insurreição, era informante do chefe de polícia do Distrito Federal. Em seu gabinete, o Dr. Aurelino Leal recebia diariamente notícias dos planos dos anarquistas. Assim, não foi difícil para a polícia, na manhã de 18 de novembro, data marcada para a insurreição, prender seus principais líderes.
O movimento acabou se restringindo basicamente a um conflito no Campo de São Cristóvão entre operários precariamente armados e forças legalistas, que obtiveram rápida vitória. Tiros, bombas de dinamite, operários em fuga desabalada pelas ruas do bairro, delação, prisões − a insurreição foi rapidamente sufocada. A greve operária, com alguma autonomia, continuou por alguns dias, sendo depois também derrotada. O governo aproveitou a ocasião para desencadear violenta e mais sofisticada escalada repressiva, fechando sindicatos e jornais operários, prendendo e deportando líderes anarquistas. A legislação vigente permitia ao Estado deportar estrangeiros ou mesmo brasileiros para fora ou para outras partes do território nacional. Em geral, os estrangeiros eram deportados para seus países de origem. José Oiticica, por exemplo, depois de preso e julgado, foi “deportado” para Alagoas, onde vivia sua família. Os líderes do movimento foram presos e enquadrados por crime de atentado. As autoridades, a maior parte da classe patronal e alguns políticos começam a elaborar um discurso em que tentam “separar o joio do trigo”: O trigo – operários brasileiros, laboriosos, honrados e pacíficos e suas legítimas reivindicações. O joio – anarquistas estrangeiros, subversivos profissionais, baderneiros apátridas, sem Deus, sem honra, sem família.
Contudo, para além dos efeitos imediatos, realmente negativos para os trabalhadores, a Insurreição Anarquista de novembro de 1918 no Rio de Janeiro produziu, a médio prazo, efeitos positivos para a classe e o movimento operários. O movimento substituiu por algum tempo a gripe espanhola como principal notícia na primeira página dos órgãos da grande imprensa carioca. Com isso, e juntamente com as greves anteriormente comentadas de julho de 1917 e agosto de 1918, a Insurreição Anarquista contribuiu para tornar impossível a continuada manobra governista de “tapar o sol com a peneira” ao afirmar que no Brasil não existia a “questão social”, que aqui não havia motivos para greves, que os operários viviam bem e eram felizes etc. Mas as reivindicações e demandas manifestadas pela classe e pelo movimento operário não podiam mais ser ignoradas. Lenta mas irreversivelmente, a classe patronal começa a perceber a necessidade, e mesmo a urgência, de atender às reivindicações operárias. Melhor “entregar os anéis e ficar com os dedos”, pensavam, e isso significava reconhecer a legitimidade dos sindicatos como entidades para encaminhar negociações coletivas. O senador Lauro Muller, em discurso aos seus pares imediatamente após os acontecimentos de 18 de novembro, reconhece que “a função precípua do Senado é legislar, [sendo necessário] entrarmos no trabalho das reformas de caráter social (…) [e que] o trabalho seja regulado por leis que lhe dêem garantias necessárias, garantias à sociedade, garantias aos patrões, garantias aos operários” (124a. Sessão do Senado Federal, em 20 de novembro de 1918). Em 1926 é criada a Comissão de Legislação Social da Câmara dos Deputados, rompendo-se a ortodoxia liberal ainda vigente.
A Insurreição Anarquista de 1918 conta um pouco da história das leis sociais no Brasil, que, longe de poderem ser resumidas a uma concessão magnânima de Getúlio Vargas aos trabalhadores, são, ao contrário, fruto de uma longa e árdua luta operária.
Carlos Augusto Addor é professor do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense e autor de A Insurreição Anarquista no Rio de Janeiro (Achiamé, 2002).
Coletivo Anarquista Luta de Classe



 Por ocasião do 8 de Março, data importante para as mulheres de todos os povos do mundo, nós, mulheres da Federação Anarquista Gaúcha, convidamos a todas e todos, no dia de hoje, a se somar nesta modesta, porém convicta opinião de luta contra as mais diversas opressões, especialmente contra as violências que decorrem das ideias machistas e patriarcais. Nossa presente contribuição não pretende ser totalizante nem abarcar toda a diversidade de opressões que sofrem os diferentes grupos dentro do que definimos por “mulher”, porém, uma coisa queremos demarcar: nossa luta e nossa vida se dedica às mulheres do povo, às mulheres oprimidas, pois delas nascemos, delas somos parte e por elas estamos dispostas a viver e morrer. Assim, conscientes de nossa insuficiência, queremos apresentar alguns debates e construções que temos feito…
Por ocasião do 8 de Março, data importante para as mulheres de todos os povos do mundo, nós, mulheres da Federação Anarquista Gaúcha, convidamos a todas e todos, no dia de hoje, a se somar nesta modesta, porém convicta opinião de luta contra as mais diversas opressões, especialmente contra as violências que decorrem das ideias machistas e patriarcais. Nossa presente contribuição não pretende ser totalizante nem abarcar toda a diversidade de opressões que sofrem os diferentes grupos dentro do que definimos por “mulher”, porém, uma coisa queremos demarcar: nossa luta e nossa vida se dedica às mulheres do povo, às mulheres oprimidas, pois delas nascemos, delas somos parte e por elas estamos dispostas a viver e morrer. Assim, conscientes de nossa insuficiência, queremos apresentar alguns debates e construções que temos feito…
 Cena do cotidiano de Amarildo (Brunno Rodrigues) /Divulgação
Cena do cotidiano de Amarildo (Brunno Rodrigues) /Divulgação



 Divulgação
Divulgação
 Divulgação
Divulgação


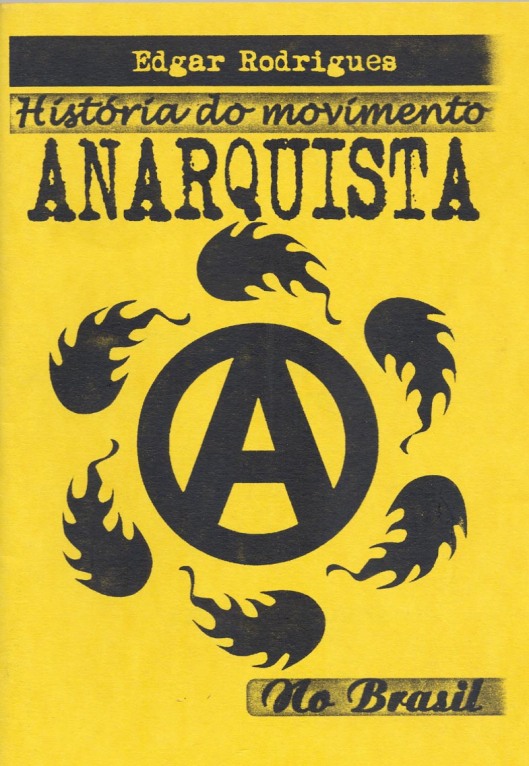














 Alguns anarquistas investiram na educação, fundando escolas alternativas, como a Escola Moderna, criada no começo do século XX, em Barcelona, por Francisco Ferrer. (Reprodução)
Alguns anarquistas investiram na educação, fundando escolas alternativas, como a Escola Moderna, criada no começo do século XX, em Barcelona, por Francisco Ferrer. (Reprodução)








