
O cinema foi se infiltrando nos círculos anarquistas, que, após o repúdio inicial, perceberam que o domínio de suas competências poderia ser de grande utilidade na propaganda das ideias libertárias. Por Rafael Morato Zanatto
Fonte: Passa Palavra
Anarquismo e Cinema
Como tema da palestra ministrada na Cinemateca de Santos, organizada pelo Núcleo de Estudos Libertários Carlo Aldegheri, a reflexão sobre a relação entre o cinema e a anarquia nos demonstrou que os anarquistas franceses não viram a evidência dessa expressão sem desconfiança ou mesmo repulsa. Até 1908, jornais anarquistas como Le Libertaire não levavam a sério o cinematógrafo, ao contrário do que acontecia com o teatro, sempre comentado em suas páginas. Era a época da efervescência dos teatros sociais, que examinaremos um passo adiante. A grande maioria das produções cinematográficas não chamava a atenção dos anarquistas e nem dos operários militantes e os espetáculos de vaudeville eram vistos por eles com reservas. Um comentário de Fernand Pelloutier, em 30/05/1896, ajuda-nos a compreender a percepção dos anarquistas sobre o cinema:
“Deprimido durante o dia pelo seu trabalho e abatido pelo álcool durante a noite e pelos espetáculos vulgares, a multidão não tem tempo nem liberdade de espírito necessários para refletir sobre o seu destino, e daí vemos a indiferença, a fraqueza com as quais o povo sofre as maiores injustiças. Recebida a humilhação, ele a limpa com absinto; a incerteza do amanhã, ele a esquece no café-concerto; a virilidade das revoltas, ele a leva para o bordel.”

A maior parte dos anarquistas via o cinema como servo, cúmplice da sociedade burguesa, ávida por entreter e distrair os oprimidos de seus objetivos principais: a liberdade e a abolição da exploração do homem pelo homem.
Em 1911, Émile Guichard identificou minuciosamente o conteúdo ideológico burguês nos filmes. Para ele, nada era mais repugnante do que as cenas que se desenrolam aos olhos do público. O patriotismo e o respeito às leis, assim como todas as virtudes burguesas, estavam ali exaltados. Os filmes mostravam ao público bravos soldados em missões sanguinárias, que retornavam ao país cheios de condecorações, saudados como heróis, enquanto que os operários que se revoltavam contra as injustiças eram representados como terroristas fabricantes de bombas ou grevistas apáticos, embriagados e coordenados como ovelhas pelos dirigentes do movimento operário.
Como se não bastasse o conteúdo ideológico burguês nos filmes, o cinema foi usado largamente para identificar suspeitos de subversão e os perseguir, encarcerar e os destruir, tentando impedi-los de disseminar suas ideias. Essa prática teve início após a Comuna de Paris (1871), em que os arquivos fotográficos serviram para delatar os participantes do movimento, encaminhados por vezes para a guilhotina ou para a prisão.
Em 1910, com a projeção lenta das películas, quadro a quadro, muitos militantes foram mandados para cadeia. O cinema não apenas servia como testemunha, mas como delator, e os operadores passavam a ser vistos como auxiliares da polícia. Restava aos anarquistas preveni-los de que eles deveriam se abster rigorosamente de exercer seu trabalho durante o desenrolar das manifestações, pois não poderiam responder pela segurança dos operadores ou de seus equipamentos.
Apesar disso, o cinema foi se infiltrando nos círculos anarquistas, que, após o repúdio inicial, perceberam que o domínio de suas competências poderia ser de grande utilidade na propaganda das ideias libertárias, assim como seu potencial educativo. A partir de 1908, os anarquistas começam a realizar algumas projeções, acompanhadas sempre de conferências que tocavam temas como o alcoolismo e o antimilitarismo, nas Universidades Populares e nas Bolsas de Trabalho.
Para os anarquistas, a educação deveria visar, sobretudo, a transformação da criança em um homem livre, com consciência de sua liberdade, considerando sua independência e seu bem estar como elementos intimamente ligados à independência e ao bem estar de seus semelhantes. Em 1912, forma-se a Liga do Cinematógrafo Para a Infância, onde é produzido o filme antimilitarista Pourquoi la guerre (Porquê a Guerra). O cinema foi sendo incorporado como veículo de propaganda libertária, e não tardou para Federação Operária Contra o Alcoolismo se valer do cinematógrafo para difundir suas ideias.
Os anarquistas passaram a ver o cinema do mesmo modo que viam o teatro, como veículo de emancipação social. Paris era lugar do Teatro de Arte Social, livre das mazelas da sociedade burguesa e onde o público tinha acesso a encenações de temas próximos à realidade social sob a ótica libertaria.
Fechado em 1894, o teatro retorna no ano seguinte com o nome de Teatro do Povo. Henri Dargel, dramaturgo que participa da criação das universidades populares, mantém o princípio libertário da organização na realização de conferencias, espetáculos e exposições livres e gratuitas, como sugeria o grupo da Arte Social: “A ideia que conduzirá à nova humanidade ainda está no limbo ou se dilui. Ela deve possuir uma arte que lhe seja própria, uma arte que a anuncie, e é esta uma arte transitória, de combate.”
As conferências, o filme Pourquoi la guerre, de Kress, e o Teatro do Povo de Henri Antoine e Émile Guichard, inspiram os libertários. Foi assim que em 1913 surge o Cinema do Povo. Aproximadamente 20 pessoas fazem parte da sociedade: militantes sindicais, artistas e intelectuais anarquistas, como Sébastien Faure e Jean Grave, André Girard e Pierre Martin.
Os envolvidos tinham por objetivo fazer seus próprios filmes, buscando na história, na vida cotidiana, nos dramas do trabalho, temas cênicos que compensassem a descarga ideológica dos deploráveis filmes burgueses, oferecidos todas as noites ao público operário. Acreditavam que o antídoto estava em suas mãos.
“No momento preciso em que todas as forças da reação (militarismo, clericalismo, monarquismo) estão no poder e toleram o arbitrário […], um Cinema do Povo […] acaba de ser criado para lutar o mais vigorosamente possível contra os agressores da III República. Seus filhos lutam contra o clericalismo, alcoolismo, chauvinismo, trio pérfido e ameaçador. Essa será a desforra contra os filmes bíblicos.” Uma desforra também contra as intrigas reacionárias de dois ou três grandes estabelecimentos cinematográficos de Paris (Gaumont, Pathé e Lumière).

O primeiro filme lançado pelo Cinema do Povo foi As misérias da Agulha, trazendo em sua temática as aflições de uma jovem operária que fica desamparada após a morte do marido. Consumida pelo desespero, tenta pôr fim à própria vida, levando consigo também seu filho, mas seu plano é interrompido por alguns membros da Cooperativa de Ajuda Mútua.
As misérias da Agulha é o primeiro filme francês a exaltar a solidariedade operária, e denuncia ao mesmo tempo a exploração odiosa das mulheres nas oficinas de costura. O filme, além de valorizar os operários, os incita à organização. Outro filme do grupo reflete as aflições do universo feminino, e Vítimas de Exploradores se foca na exploração do trabalho doméstico, em que uma trabalhadora, quando acometida pela exaustão, é demitida e lhe resta como último recurso as ruas, a prostituição.
Em ambos os curtas, o espectador acompanha a evolução trágica das heroínas, se afundando na decadência social, exploradas por seus patrões até à exaustão, para serem demitidas injustamente. O destino as atira para a extrema pobreza e suas consequências inerentes: prostituição e suicídio. Tais temáticas exprimem uma realidade social e buscam fazer o espectador reagir violentamente diante dessa situação. Se os filmes clássicos encerram suas narrativas num casamento lacrimoso com um homem belo, rico e honesto, que as retira de seu meio social, a cooperativa desenvolve uma solução mais combativa. As mulheres encontram refúgio no sindicalismo e na organização libertária, que lhe transmitem igualdade, solidariedade, autonomia, que as emancipam junto com outros trabalhadores.
O que nos leva ao filme Inverno! Prazer dos Ricos! Sofrimento dos Pobres. Realizado por Armand Guerra no final de 1914, o filme mostra os prazeres dos abastados, como a patinação no lago do Bois de Bologne, contrastados, a partir dos recursos de montagem alternada, aos pobres esfomeados e consumidos pelo frio, a esperar ansiosamente em uma fila de sopa popular. A miséria aparece em toda sua feiura, e para esses anarquistas isso vale mais do que qualquer discurso contra o sistema social vigente.

Embora ambos os filmes tenham tido grande importância na divulgação das ideias libertárias dentro dos círculos operários, o filme mais representativo do coletivo foi La Commune (A Comuna). O Filme de Armand Guerra reconstitui as batalhas, opondo assim uma representação seca e hierática das autoridades à potência da mobilização popular da rua. Alguns segundos de imagens documentais mostram os sobreviventes da Comuna em torno de uma bandeira com a inscrição Viva a Comuna. O filme teve como objetivo lembrar ou ensinar ao público operário um pouco de sua história. Em segundo lugar, explica, com a ajuda de uma descrição, como organizar a luta. O dever da memória acompanha a necessidade de entendimento, concluindo por mostrar ao espectador a aplicação concreta dos combates descritos na tela, combinando história e instrução para adubar a cultura do levante popular.
Le Vieux Docker (O Velho Estivador), última produção do Cinema do Povo, descreve a vida dura de um velho operário que, após trinta anos de trabalho e de serviços leais, se encontra sem emprego. O filme expressa solidariedade ao anarquista Jules Durand, secretário dos operários do porto do Havre. Em 1910, após uma briga que resultou na morte de um homem, o velho estivador foi condenado à pena de morte. Atestada sua inocência, tem a pena comutada em sete anos de cárcere, onde enlouquece e é remetido à um hospital psiquiátrico, onde termina seus dias. A produção desse filme demonstra que, além dos temas comuns à vida de explorações dos operários, aos conflitos de classe e à preservação de sua história revolucionária, o coletivo também incorporava em sua pauta a solidariedade para com os irmãos de militância que caíram nas garras do governo e de seu sistema prisional.
Com o início da primeira guerra mundial (1914-1918), a forte instabilidade política culmina no fim da experiência do Cinema do Povo. Os franceses vão para as trincheiras e muitos operários pacifistas são consumidos pelo ardor patriótico. Armand Guerra, o mais importante realizador do coletivo retorna a Espanha [*]. Nesse momento, qualquer preocupação propagandística a partir do cinema desapareceu dos meios operários, tendo continuidade apenas com o trabalho de Gustave Cauvin. Anos mais tarde, o espírito libertário desses tempos floresce nos filmes de Jean Vigo, filho de Miguel Almereyda, diretor do jornal antimilitarista Le Bonnet Rouge (O Barrete Vermelho), em atividade antes e durante a primeira guerra mundial.
Paulo Emílio e o anarquismo
Deve-se a Paulo Emílio Salles Gomes a biografia de Jean Vigo, onde compreende o processo artístico do filho a partir da biografia de seu pai. Um aparte biográfico se faz necessário, para que possamos localizar as motivações de um brasileiro realizar esse esforço sistemático em conectar a obra do cineasta ao seu processo de desenvolvimento artístico e político, sua experiência.

Primeiramente, o contato de Paulo Emílio com o anarquismo ocorreu no cemitério da Consolação, em São Paulo, através do encontro com Décio Pinto de Oliveira, estudante de direito que o introduzira nos meios da juventude comunista paulistana, o mesmo que morreria não mais tarde, em 1934, dando combate aos integralistas e à policia na Praça da Sé. Muitos apontam que a revoada dos galinhas-verdes foi o conflito ideológico de maiores proporções que a cidade de São Paulo já viveu, quando os integralistas e a polícia foram atacados por uma frente única constituída de socialistas, comunistas, trotskistas e anarquistas, mas posteriormente esmagados pela sucessão de acontecimentos que culminou em mortos e feridos, entre eles Mário Pedrosa, alvejado na nádega.
Após o contato inicial, Paulo Emílio se encontrou novamente com o anarquismo um ano e meio após o episódio, durante sua estada nos presídios do Paraíso e Maria Zélia, como prisioneiro político do regime de Getúlio Vargas. Na prisão, pôde ler os jornais libertários A Lanterna e A Plebe e ouvir os inflamados oradores da Aliança Nacional Libertadora, que despertavam o apoio por boa parte dos anarquistas encarcerados. Dentre as personalidades da militância social, conheceu o anarquista Edgard Leuenroth, assim como os convertidos ao comunismo Everardo Dias e Ernesto Ristori. Em suas memórias, descreve a chegada ao presídio Maria Zélia do líder libertário Soler. Esse militante espanhol chegava com reputação de bom conferencista e orador, e seus camaradas diziam para os comunistas esperarem para ver.
Os comunistas dominavam a situação e temiam o efeito das palavras de Soler sobre os operários de Bauru, os camponeses de Mirassol ou aos soldados de Caçapava, alas radicais do movimento social que balançavam entre as tendências da luta social. No dia de sua fala, Soler chegou acompanhado de alguns anarquistas, que o conduziram ao palco do teatro dos presos. Paulo Emílio, jovem comunista e filho de industriais, então conhecido pela militância no campo da cultura modernista, tomou a palavra e pediu que o orador se limitasse a falar sobre alguns pontos comuns a todos, ou seja, ao programa da Aliança Nacional Libertadora.
Soler decidiu não falar, pois restrições de qualquer ordem o inibiam. Não tardou e os comunistas se aproximaram para saudar Paulo Emílio com congratulações e tapinhas nas costas. Vinte e seis anos mais tarde, escreveria o crítico de cinema que ainda era incapaz de discernir a margem de sinceridade ou de má-fé de sua intervenção. O governo de Getúlio decidiu meses mais tarde deportá-lo para Espanha, sob as acusações de extremismo. Apenas posteriormente descobriram que os espanhóis subversivos, desembarcados no porto de Vigo, sob o controle de Franco, eram sumariamente executados, o que fez soar irônico e sinistro o sambinha que os presos cantaram na despedida de Soler:
Vai, vai meu bem
vai cumprir a tua sina
o teu destino será teu juiz
Muito embora eu fique chorando
Peço a deus que te faça feliz.

Com o passar dos anos, o interesse de Paulo Emílio pelo anarquismo não culminou no estudo das teorias libertárias, que nunca o iluminaram e que lhe pareciam, pelo contrário, terrivelmente inconsistentes. O que não impediu sua atração pela biografia dos anarquistas. Após a segunda guerra mundial, seus estudos cinematográficos o conduziram a longas pesquisas sobre o movimento anarquista francês do fim do século XIX e início do século XX, quando procurou decifrar o processo artístico de Jean Vigo a partir da personalidade de seu pai, Miguel Almereyda, que viveu uma juventude libertária ardente e generosa.
Vigo, Vulgo Almereyda
Proveniente de uma família rica do principado de Andorra, mas rejeitado por ser filho bastardo de um juiz, Miguel Almereyda chegou a Paris em 1898 para exercer o ofício de retocador de fotografias no bairro de Montmartre. Não tardou para o jovem passar a frequentar o meio libertário. Seus primeiros passos na capital não foram fáceis nem felizes. Ainda menor de idade, cometeu seu primeiro despropósito e depois um segundo, envolvendo-se numa questão com explosivos inofensivos que lhe valeram alguns meses na prisão La Petite Roquette. Depois desse período, passou diversas temporadas em diferentes presídios da República, aonde os processos o conduziam.
Em 1902, tornou-se jornalista do Le Libertaire (O Libertário), que pela virulência de seus textos lhe renderam estadias nas prisões da Santé e de Clairvaux. Consolidou-se como jornalista do jornal La Guerre Sociale (A Guerra Social), de Gustave Hervé. Em 1913, com a fundação do jornal satírico Le Bonnet Rouge, primeiramente um semanário e depois um diário, Almereyda empreende campanha aberta contra o movimento monarquista da Action Française (Ação Francesa), firmados na bandeira militarista.
Em 1914, Almereyda se juntou às campanhas de deserção lançada pela Associação Internacional Antimilitarista e pelo seu grupo Jovens Guardas Revolucionárias, enquanto que Gustave Hervé, seu amigo pessoal e editor de La Guerre Sociale, é acometido pela febre patriótica, que o faz abandonar o antimilitarismo em favor das campanhas militares francesas contra a Alemanha e se consolida com a fundação do jornal La Victoire (A Vitória) (1916).
Sustentando sua campanha contra os monarquistas e militaristas, Le Bonnet Rouge chega a uma tiragem de 80.000 exemplares, aumentando a influência e notoriedade de Almereyda no campo político. Com a direção do periódico nas mãos de Émile Joseph Duval, a linha editorial do jornal concentra-se num pacifismo declarado, e tão pronto seus inimigos passam aos ataques contra sua bandeira política.
No dia 06 de junho de 1915, a guerra editorial é declarada pelo Bonnet Rouge contra a Action Française, acusada de servir aos interesses alemães, temática na qual se desenvolvia os ataques da Action Française ao jornal de Almereyda. A propaganda da Action Française durante a guerra foi marcada pela supervalorização militarista e pela depreciação do parlamento e outras instituições, a fim de que após o termo da guerra, o exército vitorioso retornasse para derrubar a república e restaurasse a monarquia. Um sobre o olho do outro, estava traindo a França. Esse era o aspecto da luta entre duas vanguardas: a ponta monarquista do nacionalismo contra a ala esquerda dos republicanos.
Ao todo, Le Bonnet Rouge dirigiu cerca de 700 números atacando León Daudet, diretor do jornal Action Française, que sempre respondia no mesmo tom sobre Almereyda: “Esse Ladrão, esse fabricante de explosivos, esse malfeitor que é, por sua vez, chefe de malfeitores.” A censura procurava por fim à campanha de Almereyda contra Daudet, que respondia de pronto: “Quando puserem uma focinheira nesse canalha do Daudet, e em todos os seus congêneres, aí sim, consentiremos em nos calar. Antes disso não”.
Com a grande tiragem do jornal, Almereyda enriquece, compra carros e passa a trajar casaca e cartola. Nessa época, a influência de Almereyda lhe assegura frequência no gabinete de políticos do primeiro escalão, como o ministro do Interior Louis Malvy e o ministro das Finanças, Joseph Caillaux, ambos partidários de uma paz branca e alvos de ataques frequentes da Action Française. Almereyda usou largamente seu jornal para defender ambos os políticos, especialmente no caso da defesa de madame Henriette Cailleaux, acusada do assassinato de Gaston Calmette, diretor do Figaro.

Assim como as amizades poderosas, a guerra contra os monarquistas e nacionalistas rendeu a Almereyda influência em determinados círculos da polícia, a mesma contra os quais havia lutado. Valeu-se dessa posição para adquirir informações sobre seus inimigos da Action Française, o que justificou alguns investimentos de Malvy no jornal, contra um inimigo que lhes era comum.
À medida que a guerra avançava, a Action Française reunia em seu tabuleiro peças da polícia e dos tribunais, mais importantes das que dispunha Almereyda. À medida que seus opositores ampliavam seu poder, as relações com Malvy se desgastavam, e em meio a uma total confusão ideológica e à desordem de sua vida privada, Almereyda tenta reatar com algumas ideias de sua juventude, flertando com uma solução revolucionária da guerra. Pouco a pouco, se delineava contra ele um endurecimento desconfiado no círculo do Ministério do Interior.
Paulo Emílio constatou que não é difícil imaginar que essa semi-ruptura com a polícia não tenha aliviado Almereyda. Se, por um lado, o militante ficava privado de informações detalhadas sobre as atividades dos monarquistas ou de alguma ínfima informação sobre os hábitos morais do inimigo – o que não deixava de ter importância dado ao nível extremamente rasteiro da polêmica –, por outro, Almereyda estava cansado desta luta diária por meio de insultos na imprensa e intrigas policiais. Sentia-se vulnerável.
Em 1917, a Action Française aumentava sua campanha contra os republicanos. Qualquer acontecimento negativo aos seus olhos era resultado de uma atuação combinada entre o estado-maior alemão e os judeus, como diziam que havia se passado na Rússia durante o primeiro semestre de 1917, através da revolução de fevereiro e das maquinações de Lenin e Trotski. Na França, o plano alemão seria mais ou menos igual. Segundo a Action Française, além de empregar seus quadros – notadamente Malvy e Almereyda – num eficiente trabalho de espionagem militar, o estado-maior alemão estaria organizando a revolução na França, cujas primeiras manifestações haviam sido os motins no front e algumas greves em Paris. Para León Daudet e seus partidários, os dois principais centros dessa ação revolucionária eram o Ministério do Interior, dirigido por Malvy, e Le Bonnet Rouge, dirigido por Almereyda, sendo o conjunto, dirigido por Caillaux. Nessa tese, a Action Française fincou seu pé.
Com o desenvolvimento da campanha, Caillaux pressentia que Le Bonnet Rouge estava se tornando não apenas o ponto fraco não só do partido da paz, mas da república. A gota d´água foi a descoberta de alguns documentos oficiais no cofre da redação de Le Bonnet Rouge, sobre a movimentação militar no front oriental, usados em suas campanhas contra a guerra. Essa descoberta determinou a prisão de Almereyda e alimentou as campanhas que perjuravam seu nome, acusando-o de traição.
Um juiz do Terceiro Conselho de Guerra se põe a investigar as origens dos recursos do jornal, e Almereyda é obrigado a explicar suas relações com Caillaux, sendo preso por inteligência com o inimigo. Preso na Santé, Almereyda tentava recorrer, pedindo liberdade provisória em decorrência de seu estado de saúde, então em avançada degeneração. Padecia de uma grave afecção intestinal (peridonite e apendicite suporadas), dor fulminante apenas amenizada com o uso de morfina. À medida que seu estado de saúde agravava, a morfina era insuficiente e passou a recorrer à heroína. Na prisão, as dores e a abstinência foram para ele uma verdadeira tortura, que teve fim após sua transferência para Fresnes, onde, completamente indefeso, foi estrangulado em sua cela com o cadarço dos sapatos, que, tencionados, esmagaram seu pescoço contra a cabeceira da cama de metal, o que não impediu seus inimigos de falarem de suicídio.
 Segundo João Bernardo, quanto ao assassinato do Almereyda há muita coisa ainda obscura. A deriva de Gustave Hervé e a ligação de Almereyda a Caillaux e a Malvy têm muito por explicar. Seguido as ideias do escritor, Caillaux foi um dos políticos mais brilhantes da Terceira República, um homem de grande inteligência. Malvy era só um político hábil, mas Caillaux era muito mais do que isso, era um verdadeiro estratega do capitalismo. “Ora, o assassinato do Almereyda tem de se entender no pano de fundo das grandes revoltas das trincheiras em 1916-1917, que foram na realidade uma grande insurreição militar, forçosamente mal estudada porque o estado-maior francês continua a manter secreta a documentação, quase um século depois. Autorizaram só um historiador a consultá-la, e ao ler seu livro se percebe que é um mero serventuário dos militares, sem qualquer independência profissional.” Para João Bernardo, é nessa época que as classes dominantes francesas dividiram-se entre Clemenceau, de um lado, e Caillaux, do lado oposto, e o triunfo coube à ala belicista, encabeçada por Clemenceau. Por seu lado, os anarquistas também não quiseram esclarecer o seu papel numa história que em muitos aspectos não os deixaria bem vistos, e esta é, para João Bernardo, mais uma das zonas de sombra da história. Poucos dias depois, Malvy e Caillaux compareceram diante da alta corte de justiça: o primeiro foi condenado ao exílio e o segundo, à prisão.
Segundo João Bernardo, quanto ao assassinato do Almereyda há muita coisa ainda obscura. A deriva de Gustave Hervé e a ligação de Almereyda a Caillaux e a Malvy têm muito por explicar. Seguido as ideias do escritor, Caillaux foi um dos políticos mais brilhantes da Terceira República, um homem de grande inteligência. Malvy era só um político hábil, mas Caillaux era muito mais do que isso, era um verdadeiro estratega do capitalismo. “Ora, o assassinato do Almereyda tem de se entender no pano de fundo das grandes revoltas das trincheiras em 1916-1917, que foram na realidade uma grande insurreição militar, forçosamente mal estudada porque o estado-maior francês continua a manter secreta a documentação, quase um século depois. Autorizaram só um historiador a consultá-la, e ao ler seu livro se percebe que é um mero serventuário dos militares, sem qualquer independência profissional.” Para João Bernardo, é nessa época que as classes dominantes francesas dividiram-se entre Clemenceau, de um lado, e Caillaux, do lado oposto, e o triunfo coube à ala belicista, encabeçada por Clemenceau. Por seu lado, os anarquistas também não quiseram esclarecer o seu papel numa história que em muitos aspectos não os deixaria bem vistos, e esta é, para João Bernardo, mais uma das zonas de sombra da história. Poucos dias depois, Malvy e Caillaux compareceram diante da alta corte de justiça: o primeiro foi condenado ao exílio e o segundo, à prisão.
Jean Vigo então com doze anos, jamais se esqueceria da memória de seu pai.
Nota
[*] Funda, em 1918, a Cervantes Filmes, nos moldes do Cinema do Povo. Após três anos de atividade, e com pelo menos três filmes produzidos – hoje ainda perdidos – Guerra viaja para a Alemanha, para trabalhar nos grandes estúdios. Na época, o cinema alemão, com nomes como Murnau, Pabst e Lang, estava em ascensão. Trabalhando nos estúdios, Guerra exerceu todos os ofícios do cinema, da escrita de intertítulos à montagem do cenário, passando pela realização, mesmo que seu nome não apareça nos letreiros. Sentindo a ameaça da ascensão do nazismo, Guerra retorna a Barcelona, onde se engaja ao lado dos militantes anarquistas na luta contra o fascismo. Guerra passa a filmar os eventos de rua durante a revolução. Filma nas fileiras da CNT [Confederación Nacional del Trabajo, central sindical anarquista] a malograda tomada do Alcázar de Toledo pelos anarquistas e se encontra com Buenaventura Durruti, que apresenta grande interesse pelo trabalho do realizador. A CNT, devido ao agravamento das batalhas, pede que o realizador se retire, com a aproximação da iminente derrota.
Nota sobre o texto
O presente texto ilustrou a palestra ministrada na Cinemateca de Santos, no evento organizado pelo Núcleo de Estudos Libertários Carlos Aldhegueri.

 Cena do cotidiano de Amarildo (Brunno Rodrigues) /Divulgação
Cena do cotidiano de Amarildo (Brunno Rodrigues) /Divulgação
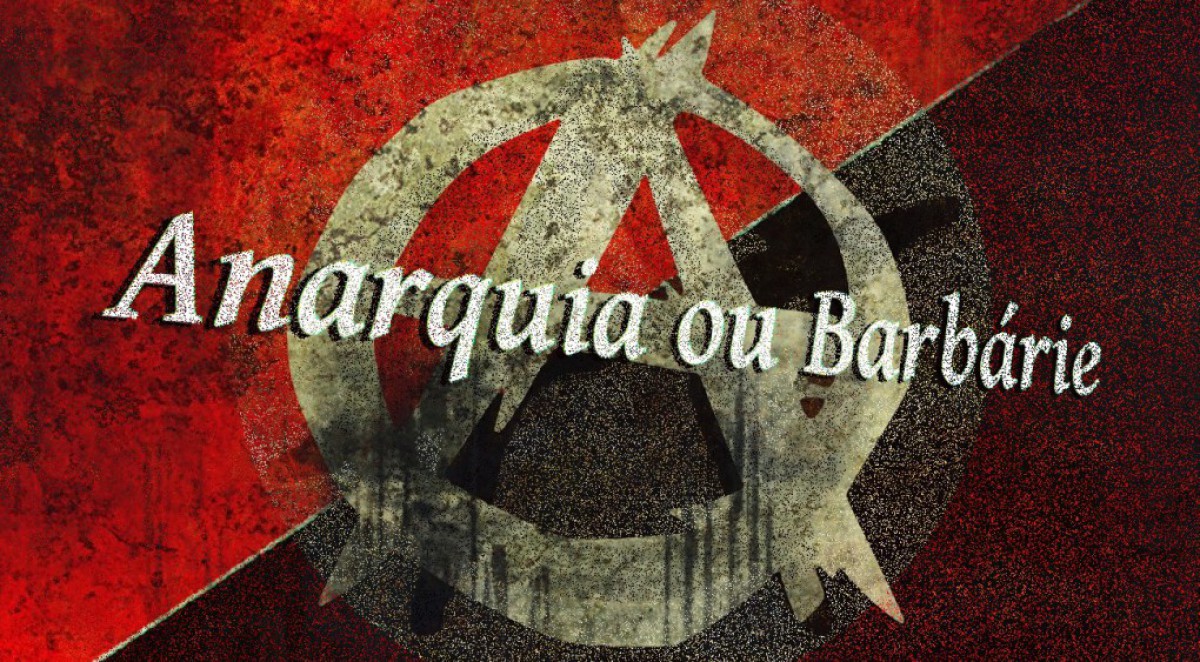

 Divulgação
Divulgação
 Divulgação
Divulgação







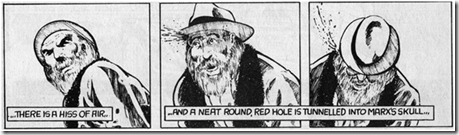
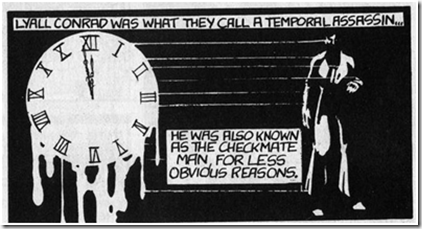






















 Sinto a repulsa dos dominadores…
Sinto a repulsa dos dominadores…